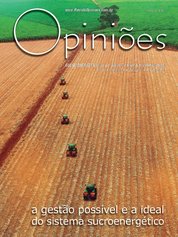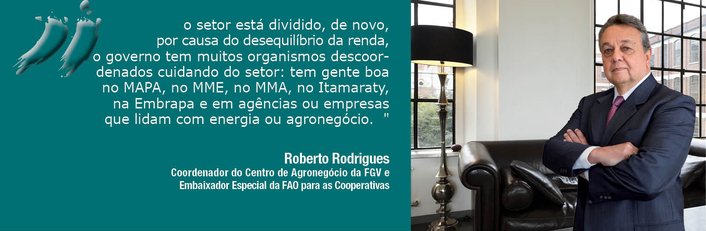Roberto Rodrigues
Coordenador do Centro de Agronegócio da FGV e Embaixador Especial da FAO para as Cooperativas
Op-AA-59
Reorganizar a cadeia produtiva
Muito antes de 1957, quando Ray Goldberg e seus seguidores cunharam o termo agribusiness em Harvard, para designar as cadeias produtivas cuja coluna dorsal é a atividade agropecuária, Barbosa Lima Sobrinho (que mais tarde, visionário como era, chegou a ser Presidente da Associação Brasileira de Imprensa) e equipe escreviam, em 1941, o Estatuto da Lavoura Canavieira e montavam todo um aparato legal e institucional para coordenar o setor sucroalcooleiro no Brasil.
Ali estava delineada a cadeia produtiva desse importante segmento socioeconômico, inteiramente controlada pelo Instituto do Açúcar e do Álcool, autarquia ligada ao Ministério da Indústria e do Comércio. O Decreto-Lei nº 3855, que continha o referido Estatuto, assinado por Getúlio Vargas em 21 de novembro de 1941, foi modernizado posteriormente em várias ocasiões, até chegar à Lei 4870, de 1º de dezembro de 1965, assinada por Castelo Branco, que deu contornos definitivos às relações dos diferentes elos do segmento.
Ali estava delineada a cadeia produtiva desse importante segmento socioeconômico, inteiramente controlada pelo Instituto do Açúcar e do Álcool, autarquia ligada ao Ministério da Indústria e do Comércio. O Decreto-Lei nº 3855, que continha o referido Estatuto, assinado por Getúlio Vargas em 21 de novembro de 1941, foi modernizado posteriormente em várias ocasiões, até chegar à Lei 4870, de 1º de dezembro de 1965, assinada por Castelo Branco, que deu contornos definitivos às relações dos diferentes elos do segmento.
A visão de Barbosa Lima era realmente notável: tudo estava ali previsto. Cada unidade industrial tinha sua quota de produção de açúcar ou de álcool determinada pelo IAA, em função da sua capacidade agrícola, industrial e até gerencial. Os produtores autônomos de cana – os fornecedores – também tinham suas quotas estabelecidas (e revisadas a cada 3 anos) em função da área de que dispunham e de sua aptidão para produzir.
Os preços de cada um dos produtos eram estabelecidos anual e regionalmente a partir de estudos de custo de produção desenvolvidos pelo próprio IAA ou por consultorias especializadas por ele contratadas. Mas a legislação não ficava só nos aspectos econômicos; tinha uma clara preocupação com o lado social: cerca de 1% do valor das toneladas de cana fornecidas pelos agricultores independentes era recolhido pelas usinas e repassado às associações rurais, para investimento em saúde e educação dos trabalhadores rurais.
Os preços de cada um dos produtos eram estabelecidos anual e regionalmente a partir de estudos de custo de produção desenvolvidos pelo próprio IAA ou por consultorias especializadas por ele contratadas. Mas a legislação não ficava só nos aspectos econômicos; tinha uma clara preocupação com o lado social: cerca de 1% do valor das toneladas de cana fornecidas pelos agricultores independentes era recolhido pelas usinas e repassado às associações rurais, para investimento em saúde e educação dos trabalhadores rurais.
Com esses recursos, quase todas as associações construíram hospitais ou ambulatórios médicos, ou fizeram convênios com hospitais e Santas Casas pré-existentes, proporcionando aos empregados uma condição que nenhuma outra atividade rural tinha. E ia além, com a proposta de organização econômica dos fornecedores: 1% do valor da cana fornecida era repassado às cooperativas de crédito rural dos produtores, de modo que Barbosa Lima já indicava a necessidade de os produtores terem seu próprio sistema financeiro, com independência dos bancos convencionais. Essa regra foi básica para a constituição dos atuais bancos cooperativos brasileiros.
E não parava aí: 0,45% do valor das canas era destinado à manutenção dos órgãos regionais de representação dos fornecedores e 0,05% para manutenção da Feplana, organismo nacional de representação. Com tais disposições, o Estatuto olhava o bem-estar de toda a cadeia, desde o trabalhador rural até o usineiro, além, é claro, de definir o papel e o modus operandi do IAA, controlador de todo o sistema e responsável pelo comércio exterior de açúcar.
Mas havia um conceito por trás desse controle todo: sabiam os autores da lei, tanto em 1941 quanto em 1965, que a cana-de-açúcar é um produto que só podia ser vendido às usinas que estivessem até uma distância máxima da fazenda do fornecedor, porque o produto era – como ainda é – barato, e o custo do frete limitava definitivamente a renda do agricultor. Isso criava uma relação mais ou menos desequilibrada: não existia comércio de cana, o usineiro próximo era o único comprador.
Daí que a lei obrigava as usinas todas a receberem pelo menos 40% de canas de produtores autônomos, que sequer eram denominados como tal, e sim como fornecedores. E o verbo usado no comércio não era "vender cana", mas sim "entregar a cana ao usineiro". Essa determinação legal limitaria a lógica capitalista que levaria o usineiro a comprar as terras do fornecedor, concentrando a renda do setor, o que Barbosa Lima Sobrinho queria evitar.
Claro que tudo isso pertence à história. A legislação era de um tempo em que a presença do Estado na economia era forte demais, e, mesmo entendendo a boa intenção dos autores, não faz mais sentido, nos tempos atuais, um controle dessa natureza. O tempo passou, veio o pagamento de cana pelo teor de sacarose, uma das maiores – senão a maior – revoluções tecnológicas do agro brasileiro na segunda metade do século passado e, por fim, veio o Plano Collor, em 1990, acabando com tudo: IAA, Planalsucar, preços controlados, quotas e todo o mais.
Sem regras, o setor deu um exemplo de capacidade de adaptação e criou o Consecana, instrumento espetacular para remunerar os diferentes elos da cadeia produtiva (usineiros e fornecedores), de maneira equilibrada e equitativa. Mas também as regras desse instrumento ficaram velhas, e o mecanismo está precisando de uma reciclada, como, aliás, estava previsto desde sua instituição. De lá para cá, muita coisa mudou, e está passando da hora de reorganizar a cadeia produtiva sob a nova realidade e com a importância que passou a ter. Os números são impressionantes, começando com a área plantada com cana no País: é a terceira maior, com 13,9% de todas as terras cultivadas, perdendo apenas para a soja e o milho.
Sem regras, o setor deu um exemplo de capacidade de adaptação e criou o Consecana, instrumento espetacular para remunerar os diferentes elos da cadeia produtiva (usineiros e fornecedores), de maneira equilibrada e equitativa. Mas também as regras desse instrumento ficaram velhas, e o mecanismo está precisando de uma reciclada, como, aliás, estava previsto desde sua instituição. De lá para cá, muita coisa mudou, e está passando da hora de reorganizar a cadeia produtiva sob a nova realidade e com a importância que passou a ter. Os números são impressionantes, começando com a área plantada com cana no País: é a terceira maior, com 13,9% de todas as terras cultivadas, perdendo apenas para a soja e o milho.
O Brasil é o maior produtor e o maior exportador mundial de açúcar, com quase 40% do mercado internacional. É também o segundo maior exportador mundial de etanol de cana. No ano passado, o valor das exportações do setor superou US$ 10 bilhões. O etanol hidratado aqui produzido permitiu enorme economia na importação de petróleo. O etanol de cana emite apenas 11% do CO2 equivalente que a gasolina emite, e a nossa frota flex (mais de 75% dos carros e 30% das motos são flex) reduz drasticamente a poluição ambiental, contribuindo, sobretudo nas grandes cidades, para a redução significativa de doenças pulmonares. Mais ainda: essa menor emissão de gases de efeito estufa – GEE – ajudará o País a cumprir seu compromisso assumido voluntariamente junto à COP21 (Acordo do Clima) de reduzir 43% das emissões totais até 2030, com base nas emissões de 2005.
E vale lembrar que a participação dos derivados da cana na matriz energética brasileira representa 17% do total, mais que a hidráulica. Aliás, a biomassa aqui produzida já gera 9% da potência outorgada pela Aneel na matriz de eletricidade, e, com a chamada bioeletricidade, o setor sucroenergético responde por mais de 11.300 MW. Isso é fantástico, porque a bioeletricidade é gerada nos meses de seca, de modo que funciona complementarmente às hidrelétricas.
E vale lembrar que a participação dos derivados da cana na matriz energética brasileira representa 17% do total, mais que a hidráulica. Aliás, a biomassa aqui produzida já gera 9% da potência outorgada pela Aneel na matriz de eletricidade, e, com a chamada bioeletricidade, o setor sucroenergético responde por mais de 11.300 MW. Isso é fantástico, porque a bioeletricidade é gerada nos meses de seca, de modo que funciona complementarmente às hidrelétricas.
E, agora, com a chegada do etanol de milho, cuja maior produção se dará no Centro-Oeste brasileiro (onde já estão em andamento muitos projetos), há a expectativa de que, em poucos anos, cerca de 7 milhões de toneladas de milho servirão para essa produção, gerando mais de 3 bilhões de litros de álcool, que se somarão aos atuais 27,9 bilhões de litros de etanol de cana produzidos em 365 usinas em todo o País, gerando mais de 800 mil empregos diretos em 30% dos municípios nacionais.
E o etanol de milho vai gerar um subproduto, o DDG (dried destillers grains), um similar ao farelo de milho de grande riqueza proteica e de excelente aceitação na alimentação animal. Vem crescendo também a produção de biodiesel a partir de oleaginosas como a soja, o amendoim, a palma, ou de sebo animal, integrando pequenos produtores às indústrias através de um Selo Combustível Social que permite acesso a leilões públicos de biodiesel com reduções tarifárias. Em 2018, já produzimos 5,5 bilhões de litros de biodiesel, só para mercado interno, o que nos coloca apenas atrás dos Estados Unidos como maiores produtores mundiais.
E o etanol de milho vai gerar um subproduto, o DDG (dried destillers grains), um similar ao farelo de milho de grande riqueza proteica e de excelente aceitação na alimentação animal. Vem crescendo também a produção de biodiesel a partir de oleaginosas como a soja, o amendoim, a palma, ou de sebo animal, integrando pequenos produtores às indústrias através de um Selo Combustível Social que permite acesso a leilões públicos de biodiesel com reduções tarifárias. Em 2018, já produzimos 5,5 bilhões de litros de biodiesel, só para mercado interno, o que nos coloca apenas atrás dos Estados Unidos como maiores produtores mundiais.
E agora temos o RenovaBio, extraordinário programa governamental criado no final de 2017, que dará novo incentivo à produção de biocombustíveis, com previsibilidade e mecanismos estimuladores de investimentos no setor, e com a visão de transformar os produtos da agroenergia em fatores descarbonizadores da matriz brasileira de transportes.
Em suma, há um enorme rol de atividades em andamento na questão da agroenergia, com urgente necessidade de uma coordenação para a reforma de instrumentos que envelheceram, como o Consecana, devolvendo a ele a missão de equilibrar os ganhos ao longo da cadeia produtiva, além da imperiosa agenda de inovações tecnológicas que garantam nossa competitividade interna e externa.
E, enquanto o setor está dividido, de novo, por causa do desequilíbrio da renda, o governo tem muitos organismos descoordenados cuidando do setor: tem gente boa no MAPA, no MME, no MMA, no Itamaraty, na Embrapa e em agências ou empresas que lidam com energia ou agronegócio.
É fundamental uma ampla coordenação de tudo isso, as pontas estão soltas e o segmento é por demais importante, como se viu, para ter tanta dispersão de ações. Não existe mais, fica claro, a menor condição de intervenção estatal no mercado, como no passado. Mas um novo governo e uma nova liderança mais política – na Unica oferecem a oportunidade de organizar toda essa memorável cadeia produtiva idealizada pelo grande Barbosa Lima Sobrinho, com equilibrada e adequada distribuição da renda entre seus elos.